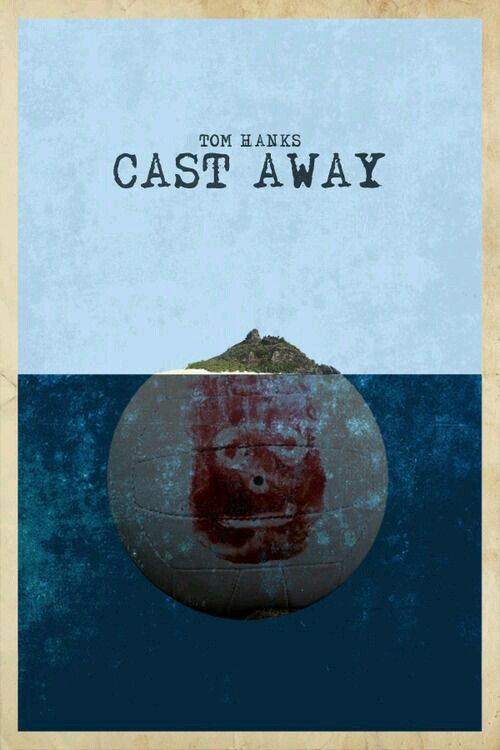No último 20/03 completou-se 20 anos da segunda guerra do Iraque, declarada de forma unilateral pelos Estados Unidos – como apoio dos seus sócios de sempre – e justificada por mentirosas provas que indicariam o Iraque como dono de um arsenal de “armas de destruição de massa”.
A mentira era uma suspeita mundial, mas a imprensa ocidental nem piscou ou ficou rubra de vergonha. Estudou independentes apontam para números que chegam próximo de 1 milhão de mortos como resultado da guerra, a ação da resistência e o caos subsequente.
O cinema, em especial o estadunidense, não ousou problematizar o próprio país como fizera com a Guerra do Vietnam. De fato foi uma guerra distante, que só ganhava (alguma ) relevância nos canais de comunicação quando alguma patrulha do exército era atacada numa estrada ou algo do tipo. Ela existia, e eventualmente incomodava, mas sem os traumas morais do passado. Os Estados Unidos dos anos 2000 salivavam ódio pelos ataques de 9/11. Além disso, eram bem mais cínicos que nos anos 70. E certamente mais individualistas.
O Cinema, em parte, capturou essa relação estranha com o conflito. Ao invés de apostar em filmes épicos ou de ação puramente escapistas, a guerra de 2003 foi refletida mais como um refúgio para as psiques estadunidenses. O Iraque tornou-se o novo México, o lugar “mágico” para saciar os desejos de afirmação violenta e busca desesperada de sentido para vidas esmagadas pela falta de perspectiva humana. No filme “The Hurt Locker” | “Guerra ao Terror” (2008), de Kathryn Bigelow, o veterano William James (Jeremy Renner) solicita retornar para a Guerra por absoluta capacidade (tédio?) de viver numa sociedade asséptica e consumista. A cena que James se vê cercado por intermináveis gôndolas em um supermercado e o seu absoluto vazio existencial na vida civil se mostram até mais desconfortáveis que as escaramuças e explosões do Iraque em convulsão. Dor imperialista? Provável. Eu chamo de “síndrome Wayne”. O Soldado de Jeremy Renner grita pelo deserto, ainda que ele flerte com o conforto da civilização. Lembram o final de “The Searches”? Fosse feito hoje, a porta se fecharia num trôpego john Wayne, vacilante entre gôndolas de um mercadinho…
O filme de Bigelow transforma o Iraque no lugar mágico para o desafogo de aventura e violência do homem branco americano, sem restrições morais e éticas. É o ethos do guerreiro branco e entristecido pelo amor insano ao deserto, seja ele mexicano ou iraquiano…

The Hurt Locker – O Vazio Existencial do Soldado e o sonho do Iraque como Lugar Fantástico para o Ethos americano
Já em o “Sniper Americano” (2014), de Clint Eastwood, acompanhamos a vida de um cidadão comum (os heróis de Eastwood são comuns…médios…não se encontra neles nada de especial. Quase nada), o sniper Chris Kyle, outrora cowboy fracassado que encontra no serviço militar uma redenção para a sua própria história pessoal. Eastwood filma Kyle (Bradley Cooper) como um cruzado em sua missão divina contra o mal. O Personagem é construído como alguém alienado, preciso no seu ofício e aparentemente desprovido de dúvida. Um homem de certezas e de ação, que se envolve na guerra e dela nutre significado para a própria vida. Não…Kyle não sente os arrepios de uma vida sem sentido como William James. Ele faz o trabalho, sem muitos questionamentos e ou dúvidas. Um soldado perfeito. Um patriota perfeito. O retrato de Eastwood é competente, mas o cineasta não é crítico ao personagem. Ele o compreende e respeita o seu patriotismo inquebrantável. Uma composição de personagem problemática. Os caras da nova Hollywood transformariam fácil o personagem de Cooper num psicopata.

Já o veterano Brian de Palma foi impedido – ou quase – de distribuir seu filme “Redacted (2007)”. Filme feito com baixíssimo orçamento e combinando realidade e ficção, o filme de De Palma é um grito – quase solitário – de denúncia. Seu filme denuncia o barbarismo de 4 soldados estadunidenses, estupradores de uma menina Iraquiana. E assassinos da sua família. O Diretor volta basicamente para a mesma situação do seu filme (retardatário) sobre o Vietnam, “Pecados de Guerra” (1989). Mas se apoia nas imagens capturadas nas redes sociais para retratar o caos Iraquiano. A Guerra virou mais um tema para ser deglutido pelos algoritmos. A desumanização, o ensimesmamento e a alienação dos seus concidadãos é a tragédia…as pilhas de iraquianos mortos são apenas o reflexo, ou o resultado…

Já Paul Greengrass, celebrado diretor de thrillers políticos e de ação, mergulha no Iraque caótico pós invasão para retratar os interesses da burocracia americana, ilhada na tal zona verde – antigo complexo palaciano de Saddam Hussein – para, a partir dali, tentar trazer “democracia e progresso” para o Iraque. Seu filme “Green Zone” | Zona Verde (2010) fracassou relativamente nas bilheterias, e mesmo as críticas foram mornas. Talvez público e crítica esperassem de Greengrass um Thriller de ação sem o tom crítico e pessimista da obra.
Matt Damon faz o militar bem intencionado e inflado pelos ventos da vingança que, amargurado com o fardo do homem branco nas terras agrestes do Iraque, começa a entender a lógica da guerra e a impossibilidade de resolução do conflito. O filme é relativamente bem sucedido ao mostrar a falta de objetivo claro dos estadunidenses, muito competentes para começar a guerra e ocupar o país mas incapaz de pensar uma estratégia de saída. Como cinema, no entanto, o filme alterna competentes cenas de ação com uma trama política que vai ficando progressivamente intricada, prejudicando a fluidez da narrativa. A direção de Greengrass aqui parece um pouco mais comedida, em especial na trêmula câmara na mão de suas cenas de ação.

Por último, o pequeno filme de Doug Liman, “The Wall | Na mira do atirador” (2017) é muito eficiente como thriller de guerra, minimalista, que acompanha a luta especifica e cheia de regras particulares entre dois franco-atiradores: um estadunidense, sobrevivente de uma emboscada conduzida por um soldado Iraquiano. O filme “brinca” com a figura de um suposto sniper Iraquiano chamado Juba, tornado lenda por uma matéria do jornal inglês “The Guardian” em 2005. A matéria relata a existência de um eficientíssimo franco-atirador do exército iraquiano, que após a invasão se junta a resistência armada e inicia uma série de ataques furtivos realizados nas cidades e em linhas de suprimentos dos exércitos ocupantes.

O Filme de Liman abandona os grandes temas presentes nos filmes de Greengrass e Bigelow. Ou mesmo o tom de denúncia de De Palma. Ele está mais interessado na tensão crescente entre os soldados que lutam um tipo específico de combate, técnico e sofisticado nas suas regras. O filme também é eficiente ao mostrar o sniper iraquiano (só conseguimos escutar sua voz por meio da fonia que ele estabelece com o soldado americano) como alguém ardiloso, mas culto, inteligente e obviamente dotado de um propósito que o soldado americano jamais poderia equivaler. O que faz da obra um eficiente retrato da impossibilidade estadunidense de vencer a guerra. O Soldado, acuado num muro semidestruído por um franco-atirador Iraquiano, no meio do nada de um Iraque destruído, é o símbolo perfeito do desastre estadunidense no Iraque.
A Guerra completou 20 anos e a impressão que fica é de uma certa timidez do cinema, ao menos do cinemão americano, no retrato fílmico do evento. Seja por embaraço ou mesmo desinteresse do público médio. Diferente da guerra do Vietnam, que marcou para sempre a alma americana, o Iraque representou um ruido distante e estranho para uma sociedade abalada em seu orgulho e incapaz de lidar com tantas crises econômicas, políticas e sociais nos anos seguintes, até os dias atuais.
Espera-se, talvez daqui uns anos, com mais distanciamento e com a corrosão que as medidas desastradas dos governos americanos trouxeram para a influência do seu país naquela região, o cinema possa voltar o tema. De forma mais crítica, se possível…